Ainda a revolução telemática, agora o mundo do Trabalho: perda da centralidade?
Precisamos pensar o novo modo de integração social
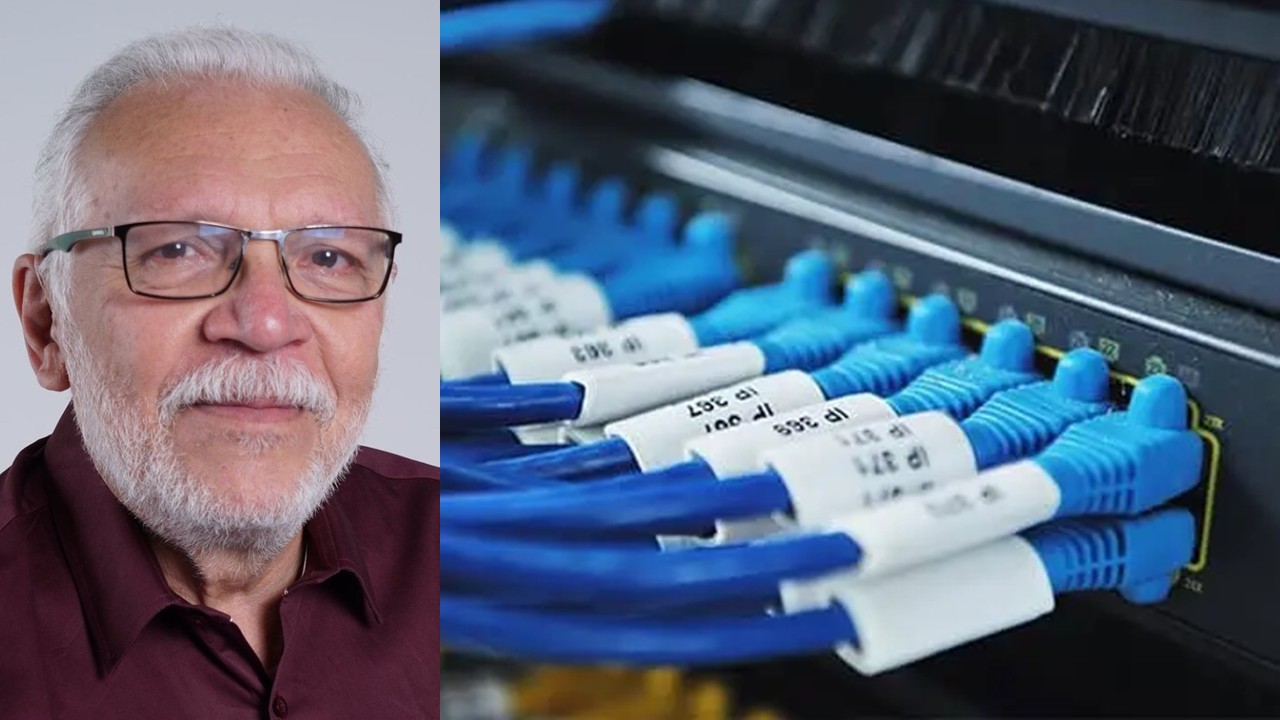
Desde o século XVI, quando se intensificou o comércio da Europa com a Ásia e a África e quando os europeus chegaram às Américas, a expansão econômica e política passou a ter tendência mundial (Wallerstein e Darcy Ribeiro). Mas, o impacto da tecnologia que tende a ser hegemônica (agora, a teleinformática) repercute de modo diferente nos diversos países, criando desde então os Centros e as Periferias.
No que se refere ao Mundo do Trabalho, esse “impacto diferencial” é maior ainda. Até porque o mundo do trabalho envolve múltiplas dimensões: desde a dimensão ontológica mais abstrata (o metabolismo homem-natureza como um dos eixos da hominização) até a dura realidade concreta do esforço físico.
Além disso, o trabalho é uma mediação significativa das relações sociais; e os trabalhadores, quando adquirem o status de cidadão, se tornam uma base social decisiva na disputa político-eleitoral. O debate atual sobre os “trabalhadores de aplicativo” e “empreendedorismo” tem a ver com esse último aspecto; também o antigo debate sobre o papel das classes médias tem essa conotação política.
Mas a constituição histórico-social do Mundo do Trabalho, em cada época, apresenta algumas características estruturais que tendem a se tornar a referência históricas. Alguns tipos de relações de trabalho são identificadas: escravidão, servidão, assalariamento, e serviços em obras públicas (Egito, China).
A revolução neolítica, com a descoberta-invenção da agricultura, é considerada o ponto de partida. Mas, de fato, só se pode falar em divisão social de trabalho quando esta produz a estratificação social, ou seja, a diferenciação entre os que fazem o trabalho material para a sobrevivência de todos e os que vivem de renda (proprietários de terra), de tributo (governantes) ou de dízimo (religiosos). A estratificação social produziu também a diferença entre cidades e campo e entre trabalho manual e intelectual.
Os fisiocratas franceses (séc. XVIII) chamaram de “produto líquido” a parte apropriada pelos que não produziam. Este último conceito ainda hoje é utilizado com o nome de excedente (desde Adam Smith, incluindo a produção de bens industriais).
Quando o uso desse excedente deixou de ser usado apenas para construir pirâmides, muralhas, canais, palácios, monumentos ou catedrais e foi substituído pela ideia de “ganhar dinheiro” no comércio (1500-2750) ou de investimento racional produtivo (1750-hoje) nasceu e se consolidou o capitalismo (Marx e Weber).
A apropriação e o destino ou distribuição do excedente continua e continuará sendo o centro da disputa entre classes e grupos sociais, seja diretamente (lucro, juro, salários, etc.), seja indiretamente (impostos: seu volume hoje varia de 10% a 40% como volume o PIB nos diferentes países; no Brasil, é em torno de 32%; e sua destinação (investimento, benefícios, isenção fiscal em suas apropriações indevidas). Um debate muito presente no Brasil atual, sobre “colocar os pobres no orçamento” e mais recente ainda, a isensão do imposto de renda dos que ganham menos e maior tributação dos que ganham muito mais.
Até o final do século XVIII, a grande maioria da população era rural, vivendo em aldeias, povoados ou vilas, sendo a família a unidade de produção básica. Eram subordinadas pela dominação indireta (indirect rule) a Estados Imperiais, utilizando, em geral, a mediação de senhores rurais ou de funcionários das coroas.
Agora, em 2020, a população rural do mundo ainda é de 43,3%, devido ao peso da população rural indiana (64,1% do país) e de diversos países da África e da Ásia. A China passou por um processo acelerado de urbanização (sua população rural é de 33%). Nos Estados Unidos é de apenas 5% e na Europa entre 5 e 10%. No Brasil, a população rural representou apenas 14% da população total, em 2022.
Mas, com a revolução industrial e a consequente urbanização (1750-hoje) ocorreu a grande mudança da estrutura ocupacional. Na Inglaterra, o país pioneiro da industrialização, a população rural precisou ser forçada a sair do campo. Em outros países o processo foi menos traumático. Incrível como a União Soviética, depois da revolução de 1917, também “expulsou” a população do campo de maneira traumática. No Brasil, essa mudança foi mais caótica que traumática, pelas secas, pela atração das cidades maiores (até para a educação dos filhos) e pela expansão do capitalismo no campo.
É bom ressaltar que a mudança da ocupação da agricultura para a indústria não foi apenas uma mudança de emprego no setor primário para o setor secundário. Os trabalhadores foram expropriados dos meios de produção; se tornaram “trabalhadores livres”, ou seja, sem fixação ao local de moradia ou a um patrão que era também seu senhor. Desde então surgiu a sociedade do trabalho ou de assalariados. São 250 anos de “proletarização”, ou melhor, de expansão do assalariamento em toda a economia.
Com a Revolução da Telemática é esse tipo de sociedade que está em crise, em transformação profunda ou até em substituição por outro paradigma (o que exigiria uma mudança de civilização).
Os clássicos da Economia Política e da Sociologia teorizaram esse processo: foi a passagem do feudalismo para o capitalismo (Adam Smith, Marx), da comunidade para a sociedade (Tonnies), da dominação tradicional para a dominação racional-burocrática (Weber), da solidariedade mecânica para a solidariedade orgânica (Durkheim). Todos eles, em especial Durkheim, consideravam a divisão do trabalho social como o novo mecanismo de integração social dos indivíduos na sociedade. Uma integração funcional e não pessoal-comunitária; mas uma integração conflitiva e desigual
O fantasma do desemprego e a segurança (social) para a sobrevivência nos impedimentos (doenças, parto, etc.) ou depois deixar de trabalhar (aposentadoria) passou a ser o grande debate da sociedade dos assalariados. Os sindicatos e os partidos de esquerda e centro-esquerda foram os grandes porta-vozes das mudanças ou das conquistas para enfrentar esses problemas (questão social, na linguagem da Igreja). Os direitos civis e políticos da cidadania foram enriquecidos com os direitos sociais (Marshall, sociólogo inglês do início do século XX).
A preocupação com os impactos da telemática vem da percepção de que as mudanças tecnológicas não só se aceleraram, mas com a ideia de inovação, mudam também as formas técnicas do trabalho, tornando certas qualificações obsoletas e exigindo constante requalificação.
Isso atinge a própria identidade profissional dos assalariados, base para o fortalecimento da organização sindical. Fragmenta mais ainda a divisão que foi se formando entre as funções administrativas (colarinhos brancos) e as funções de execução material (macacões azuis). Parte da classe operária (assalariada) se elitizou ou passou a se sentir como “classe média”?
A formação educacional básica se universalizou, mas o acesso à universidade, em todo o mundo, sempre tem sido desigual. O setor de serviços, em geral de trabalho menos pesado, cresceu e absorve a maioria dos empregos hoje. Alguns estudiosos passaram mesmo a falar em “sociedade pós-industrial”. Independente das polêmicas teóricas, o decisivo é o que aponta Manuel Castells: “(No informcionalismo), a distinção principal não é entre uma economia industrial e uma pós-industrial, mas entre duas formas de produção industrial e de serviços, baseadas em conhecimento”. O setor terciário perde a capacidade de absorver os trabalhadores excluídos do setor industrial pela automação e pelos robôs. Basta observar que no Brasil reduziu-se o número de metalúrgicos e de bancários, no mesmo processo (aliás, categorias que lideraram a formação do PT). Pode-se falar em processo semelhante na educação, atividade típica do setor de serviços: o uso da mediação tecnológica )recurso pedagógico) que atinge “dezenas de salas de aula em diversos lugares” tende a se afirmar como educação à distância (nova modalidade de ensino regular não-presencial).
Nessa perspectiva, faz mais sentido falar em “sociedade do conhecimento”, pois a informatização não é só a substituição do trabalho manual humano, mas a substituição de parte e do modo do trabalho intelectual. E essa divisão ou reduz a jornada de trabalho para incluir uma população mais escolarizada em níveis mais elevados, ou criará um dualismo estrutural nas sociedades. A redução da jornada 6/1 no Brasil precisa se tornar um foco da luta dos assalariados.
A heterogeneidade permanecerá por bastante tempo. Ao lado da automação, dos robôs e da informatização, ainda temos (até quando?) garis correndo atrás do carro de lixo, borracheiros desembeiçando pneu na base da marreta, lavradores usando apenas foice e enxada e mulheres carregando lata d’água na cabeça.
De todo modo, precisamos pensar o novo modo de integração social, que se some ou substitua a integração funcional pelo trabalho, que seja capaz de dar oportunidade a todos e indique os eixos de mobilização para as pessoas.


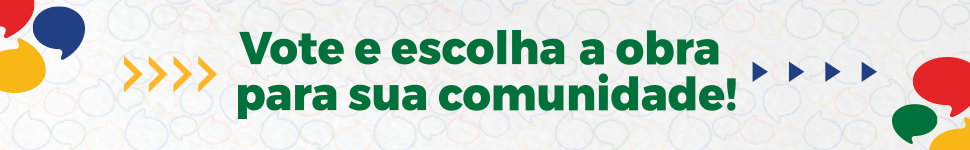
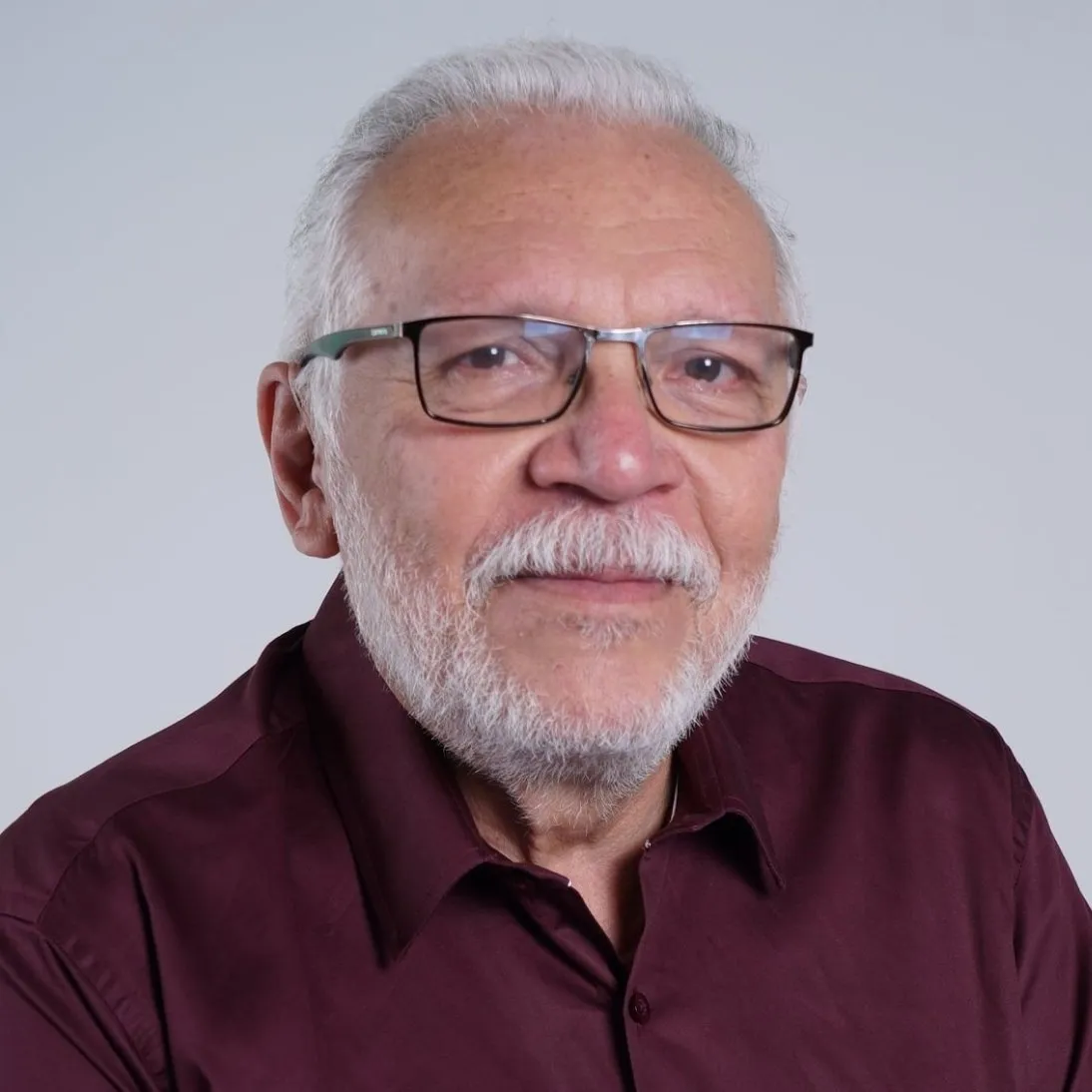

Deixe sua opinião: